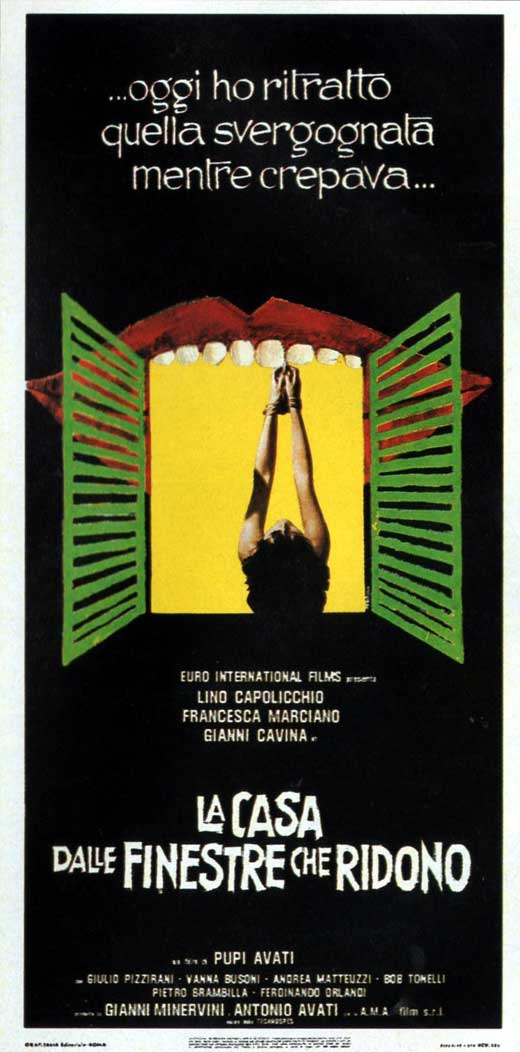por MARCOS BROLIA
1975 / EUA, Reino Unido / 100 min / Direção: Jim Sharman / Roteiro: Jim Sharman, Richard O’Brien / Produção: Michael White, John Goldstone (Produtor Associado), Lou Adler (Produtor Executivo) / Elenco: Tim Curry, Susan Sarandon, Barry Bostwick, Richard O’Brien, Patricia Quinn, Nell Campbell, Charles Gray
The Rocky Horror Picture Show é sinônimo de cinema cult. Endeusado por gerações e mais gerações de jovens a trintões e quarentões, o musical / comédia / horror do diretor Jim Sharman é um clássico absoluto tanto para quem é fã do gênero, como para quem não é.
Lançado em 1975, dois anos após a peça musical estrear nos teatros ingleses, é um caso curioso de filme feito por um grande estúdio, aqui no caso a 20th Century Fox, que acabou se popularizando nas sessões da meia-noite e seus “double features” como a própria emblemática música de abertura evoca, recheado de toneladas e mais toneladas de referências de clássicos da ficção-científica e filmes de terror dos anos 30 até 50. Fora toda a estética glam rock, estilo musical dos anos 60 e 70, que tem David Bowie como um dos grandes ícones, caracterizado por músicos andróginos, maquiagem, purpurina e roupas coladas.

Todos esses elementos entraram em ebulição quando transportados ao cinema pelo produtor executivo Lou Adler. Um banho de sexualidade e transexualidade aterrissou nas telas naquela metade dos anos 70, e por mais que tenha sido um fracasso retumbante de bilheteria no circuito convencional, ganhou sua aura cult no decorrer dos anos e ainda hoje é objeto de estudo e admiração dos jovens, sendo citado em filmes adolescente indies como As Vantagens de Ser Invisível ou na baboseira chiclete televisiva Glee, fazendo com que seu público se renove sempre com o passar dos anos.

The Rock Horror Picture Show é um fenômeno social cinematográfico. Sua cenografia (simplista, tal qual a peça de teatro), as atuações exageradas (feitas por toda a trupe inglesa da peça, com exceção do casal protagonista americano Brad Majors, vivido por Barry Bostwick e Janet Weiss, vivida por Susan Sarandon), as mensagens (subliminares e escancaradas), as canções e suas coreografias e a trama que parodia o clichê do clichê do clichê do cinema de matinê e de drive-in se mostraram uma aposta certeira. Não há como um único fã de terror (aqueles malucos como eu que escrevo e você que lê esse blog), não querer passar a película inteira decifrando todas as referências a esse universo fantástico, seja nas letras, nos arquétipos dos personagens, na trama e subtramas paralelas ou nas memorabílias espalhadas pelos 100 minutos de projeção.

Começa pelo casal em lua de mel em perigo, que durante uma noite de tempestade, vai parar no lugar errado e na hora errada (claramente inspirado no casal Peter e Joan Alison de O Gato Preto, filme de 1934 da Universal, uma das pérolas produzidas por Carl Laemmle Jr. durante a Era de Ouro do estúdio). Acontece que ali é a residência do transex e completamente despirocado Dr. Frank-N-Furter, impecavelmente vivido por Tim Curry em seu papel mais emblemático (junto com o palhaço Pennywise de It – Uma Obra Prima do Medo), o cientista louco da vez com seus ajudantes, o corcunda Riff-Raff (Richard O’Brien), e as estranhas beldades Magenta (Patricia Quinn – que em determinado momento irá se caracterizar na personagem de Elsa Lanchester em A Noiva de Frankenstein) e Columbia, a groupie (Nell Campbell). Isso sem contar a narração pontual do Criminologista e expert interpretado por Charles Gray (ator que é impossível dissociar de seu papel de Mocata em As Bodas de Satã da Hammer).

O famigerado doutor, entre um e outro ato de canto e dança, finalmente dá vida a sua criação, Rocky Horror, vivido pelo musculoso Peter Hinwood, tal qual o Dr. Frankenstein. Todo esse caldo é pano de fundo para a lascívia de Frank-N-Furter, as descobertas sexuais (e puladas de cerca) dos heróis e uma ode à cafonalha setentista, ao visual camp e elementos queers, que obviamente afugentaram o americano médio das salas de cinema, mas que ganhou sua força exatamente por seu aspecto B escancarado, quando voltado ao público underground, marginalizado, reprimido sexualmente (aí vale para héteros, por meio do casal que esconde sua libido por simples imposição social daqueles tempos e para os gays, que não preciso nem discursar aqui) que se identificava com a produção, e o via como uma forma de expressão, de questionamento, tomar posição e de fazer se “levantar a voz” em tempos de homofobia, intolerância e valores morais exacerbados gritantes.

Frank-N-Furter aparece como um libertino libertário, como um doce travesti (como na letra da música cantada por Curry) em seu escandaloso corselet, salto alto, cinta-liga, cantando aos quatro ventos sobre quem ele é, o que ele quer fazer e criar, exatamente para chocar a plateia e seu rival, o cientista Dr. Everett V. Scott (Jonathan Adams) que funciona como o contraponto que representa os pensamentos reacionários da sociedade, e servir com um mártir, um messias que execra os dont’s e é um estopim para os do’s de uma sociedade inteira e todos os seus tipos. Abre mundos como de Brad e sua homossexualidade latente, Janet e sua libido guardada a sete chaves pelo papel de esposa subserviente. Esqueça sua opção sexual, seu fetiche, seu credo, cor e raça, estilo musical que ouve, tipo de roupa com que se veste, ser excluído, minoria, sofredor de bullying. A mensagem gritante para esses oprimidos é: encontre o seu Frank-N-Furter dentro de você, lhe dê voz e a capacidade de criar, e saia do armário (armário que vale não apenas no sentido de escolha sexual, mas um armário que funciona como uma reprimenda de seus medos no fundo de sua psique).

A emblemática cena de abertura com a música tema “Science Fiction Double Feature” e suas diversas referências originalmente mostraria os créditos dos atores entre clipes dos filmes citados. A ideia foi abortada por Brian Thomson, designer de produção, pois seria impossível ir atrás da permissão de todos os estúdios para que esse material fosse exibido e lhe ocorreu a ideia dos lábios, inspirado pela pintura de Man Ray “A l’heure de l’observatoire, les Amourex”. E bingo! Uma daquelas ideias tão acertadas que aquela boca vermelha carnuda se tornou uma marca registrada de TRHPS. Fora essa abertura e todos os pequenos easter eggs, o filme ainda tem uma cacetada de símbolos dos clássicos estúdios de cinema, como um dos mais emblemáticos, a torre de rádio e raio da RKO Radio Pictures, o globo símbolo da Universal e o grande Atlas, símbolo da Amicus, entre tantos outros. É como eu disse: assistir a TRHPS é um caça-palavras cinematográficos que entretém os fãs mais fervorosos.

No interessante campo dos quase, Mick Jagger queria o papel de Frank-N-Furter que acertadamente ficou para Tim Curry, oriundo da peça original; Steve Martin foi cotado para o papel de Brad Majors; e Vincent Price para o papel do Criminologista, que não pode aceitar por conflitos de agenda.
Mas o mais importante de tudo em The Rocky Horror Picture Show é que através de seus personagens facilmente identificáveis, mesmo que caricatos, é a capacidade de mostrar ao público a redenção, a descoberta do seu eu, de seus desejos, e por fim, se ver aceito no mundo. Até por isso ele tem tanta força nos adolescentes e continua perdurando até hoje em dia, funcionando com um belo serviço psicológico e social e, além disso, também despertando certo interesse nos clássicos, que hoje parecem anos luz de distância dessa geração vídeo-clipe e vídeo-game. É um sinônimo de ousadia em todos os sentidos.
FONTE/DOWNLOAD: