31/05/1930
sexta-feira, 31 de maio de 2013
DISCOTECA BÁSICA
MUDDY WATERS
Folk Singer (1964)
(Edição 106,Maio de 1994)
Demorou, mas como já dizia a minha avó: "Antes tarde do que nunca". Aqui está ele "apenas" o mais influente de todos os mestres de blues, nascido Mckinley Morganfield em pleno Delta do Mississippi em 1915 e que passou seus 68 anos de vida dedicados de coração ao blues.
Seu estilo de cantar e de tocar guitarra foram imitados por incontáveis artistas, número que só pode se comparar ao de músicas que compôs - uma delas, "Rollin Stone", inspirou tanto o nome de um famoso grupo britânico, como o daquela conceituada revista americana.
Mas uma nota musical de Muddy vale mais do que mil palavras sobre ele. E este álbum totalmente acústico é a grande pedida, por ter sido gravado na época em que o bluesman já estava idolatrado por grupos de rock'n'roll e rhythm'n'blues dos dois lados do Atlântico como gênio na guitarra elétrica.
Muddy teve álbuns mais famosos do que este, como "Muddy Waters Live At Newport" (60) e o "psicodélico" "Eletric Mud" (68), ambos discos eminentemente elétricos - como a maioria dos álbuns gravados por ele. Mas "Folk Singer" é bem adequado para esta época em que todo mundo está "ligado" no "unplugged". Muddy sabia - e demonstrou muito bem aqui - que existe uma diferença entre o tocar alto e ser eloqüente.
Bem... que história é esta de chamar um bluesman - e logo um dos mais importantes - de "cantor folk"? Muito simples: Muddy foi descoberto para o público branco em 41, por uma dupla de pesquisadores de folclore americano: John e Alan Lomax (pai e filho). E vários temas que ele interpretava eram adaptações de canções ou blues folclóricos.
"Folk Singer" saiu no início de 64, quando a folk music - território de Bob Dylan, Peter, Paul And Mary e quetais - era o "quente" para os jovens que não gostavam de pop rock (leia-se as maravilhas dos Beach Boys, Phil Spector ou o brega feito pelos "Pat Boones da vida", pois o tal da "beatlemania" ainda estava para dobrar a esquina nos EUA).
Neste disco, Muddy ora toca e canta sozinho, ora faz dueto com um jovem muito talentoso, Buddy Guy (assim como Waters, outra notória influência de Jimi Hendrix).
Em algumas faixas temos a simplicidade e a eficiência do contrabaixista Willie Dixon (um mestre nas produções do selo Chess) e do baterista Clifton James. Há que se falar ainda do co-produtor do álbum (junto a Dixon), o grande Ralph Bass, cujas glórias incluíram o trabalho com feras como Howlin Wolf e os jazzistas Charley Parker e Dizzy Gilespie, além da descoberta de James Brown. Das "canções folk", constam a célebre "Good Morning, School Girl" e outras que - mesmo soando estranhas para quem só conhece os hits como "Rolling' And Tumblin'" e "Got My Mojo Workin'" - devem ser investigadas por aqueles que se interessam por blues sem toques "modernosos" (camas de teclados, caixa de bateria em primeiro plano, etc.).
Para o verdadeiro blues, um bom violão já é mais que suficiente, como prova "Feel Like Going Home", o belo clima do disco, onde Muddy se descabela sozinho no vocal e na slide guitar. É aqui que ele demonstra ser a melhor transição entre Robert Johnson e os bluesman dos anos 60. Enfim, como diz o texto que está na contracapa do Folk Singer: "Não importa se Muddy é folk ou blues, o importante é ouví-lo".
Ayrton Mugnaini Jr.
FONTE: http://rateyourmusic.com/lists/list_view?list_id=133037&show=50&start=100
Folk Singer (1964)
(Edição 106,Maio de 1994)
Demorou, mas como já dizia a minha avó: "Antes tarde do que nunca". Aqui está ele "apenas" o mais influente de todos os mestres de blues, nascido Mckinley Morganfield em pleno Delta do Mississippi em 1915 e que passou seus 68 anos de vida dedicados de coração ao blues.
Seu estilo de cantar e de tocar guitarra foram imitados por incontáveis artistas, número que só pode se comparar ao de músicas que compôs - uma delas, "Rollin Stone", inspirou tanto o nome de um famoso grupo britânico, como o daquela conceituada revista americana.
Mas uma nota musical de Muddy vale mais do que mil palavras sobre ele. E este álbum totalmente acústico é a grande pedida, por ter sido gravado na época em que o bluesman já estava idolatrado por grupos de rock'n'roll e rhythm'n'blues dos dois lados do Atlântico como gênio na guitarra elétrica.
Muddy teve álbuns mais famosos do que este, como "Muddy Waters Live At Newport" (60) e o "psicodélico" "Eletric Mud" (68), ambos discos eminentemente elétricos - como a maioria dos álbuns gravados por ele. Mas "Folk Singer" é bem adequado para esta época em que todo mundo está "ligado" no "unplugged". Muddy sabia - e demonstrou muito bem aqui - que existe uma diferença entre o tocar alto e ser eloqüente.
Bem... que história é esta de chamar um bluesman - e logo um dos mais importantes - de "cantor folk"? Muito simples: Muddy foi descoberto para o público branco em 41, por uma dupla de pesquisadores de folclore americano: John e Alan Lomax (pai e filho). E vários temas que ele interpretava eram adaptações de canções ou blues folclóricos.
"Folk Singer" saiu no início de 64, quando a folk music - território de Bob Dylan, Peter, Paul And Mary e quetais - era o "quente" para os jovens que não gostavam de pop rock (leia-se as maravilhas dos Beach Boys, Phil Spector ou o brega feito pelos "Pat Boones da vida", pois o tal da "beatlemania" ainda estava para dobrar a esquina nos EUA).
Neste disco, Muddy ora toca e canta sozinho, ora faz dueto com um jovem muito talentoso, Buddy Guy (assim como Waters, outra notória influência de Jimi Hendrix).
Em algumas faixas temos a simplicidade e a eficiência do contrabaixista Willie Dixon (um mestre nas produções do selo Chess) e do baterista Clifton James. Há que se falar ainda do co-produtor do álbum (junto a Dixon), o grande Ralph Bass, cujas glórias incluíram o trabalho com feras como Howlin Wolf e os jazzistas Charley Parker e Dizzy Gilespie, além da descoberta de James Brown. Das "canções folk", constam a célebre "Good Morning, School Girl" e outras que - mesmo soando estranhas para quem só conhece os hits como "Rolling' And Tumblin'" e "Got My Mojo Workin'" - devem ser investigadas por aqueles que se interessam por blues sem toques "modernosos" (camas de teclados, caixa de bateria em primeiro plano, etc.).
Para o verdadeiro blues, um bom violão já é mais que suficiente, como prova "Feel Like Going Home", o belo clima do disco, onde Muddy se descabela sozinho no vocal e na slide guitar. É aqui que ele demonstra ser a melhor transição entre Robert Johnson e os bluesman dos anos 60. Enfim, como diz o texto que está na contracapa do Folk Singer: "Não importa se Muddy é folk ou blues, o importante é ouví-lo".
Ayrton Mugnaini Jr.
FONTE: http://rateyourmusic.com/lists/list_view?list_id=133037&show=50&start=100
quinta-feira, 30 de maio de 2013
OS INCRÍVEIS
O MILIONÁRIO
(The Millionaire)
O milionario: Autoria de Mike Maxfield e foi um grande sucesso na decada de 60, foi gravada pelo conjunto musical brasileiro Os Incriveis.
Os Incríveis foi uma banda brasileira de rock e pop dos anos 1960 e 70, formada em São Paulo por Domingos Orlando, ou "Mingo" (voz e guitarra), Waldemar Mozema, "Risonho" (guitarra), Antônio Rosas Seixas, "Manito" (teclados, vocal e sax), Luiz Franco Thomaz, "Netinho" (bateria), Demerval Teixeira Rodrigues, "Neno" (baixo), substituído em 1965 por Lívio Benvenuti Júnior, "Nenê".
Inicialmente, a banda chamava-se The Clevers e, em seus shows, tocava pricipalmente twist, estilo em moda no início da década de 1960. O sucesso veio durante o período da Jovem Guarda, com a mudança de nome e canções populares como "Era um Garoto Que, Como Eu, Amava os The Beatles e os The Rolling Stones, "O Milionário" e "Eu Te Amo, Meu Brasil".
Ao longo dos anos 1970, ex-integrantes dos Incríveis formariam outras importantes bandas do rock brasileiro, como Casa das Máquinas e O Som Nosso de Cada Dia.
(The Millionaire)
O milionario: Autoria de Mike Maxfield e foi um grande sucesso na decada de 60, foi gravada pelo conjunto musical brasileiro Os Incriveis.
Os Incríveis foi uma banda brasileira de rock e pop dos anos 1960 e 70, formada em São Paulo por Domingos Orlando, ou "Mingo" (voz e guitarra), Waldemar Mozema, "Risonho" (guitarra), Antônio Rosas Seixas, "Manito" (teclados, vocal e sax), Luiz Franco Thomaz, "Netinho" (bateria), Demerval Teixeira Rodrigues, "Neno" (baixo), substituído em 1965 por Lívio Benvenuti Júnior, "Nenê".
Inicialmente, a banda chamava-se The Clevers e, em seus shows, tocava pricipalmente twist, estilo em moda no início da década de 1960. O sucesso veio durante o período da Jovem Guarda, com a mudança de nome e canções populares como "Era um Garoto Que, Como Eu, Amava os The Beatles e os The Rolling Stones, "O Milionário" e "Eu Te Amo, Meu Brasil".
Ao longo dos anos 1970, ex-integrantes dos Incríveis formariam outras importantes bandas do rock brasileiro, como Casa das Máquinas e O Som Nosso de Cada Dia.
terça-feira, 28 de maio de 2013
PASSEIO NOTURNO
de Rubem Fonseca
Cheguei em casa carregando a pasta cheia de papéis, relatórios, estudos, pesquisas, contratos. Minha mulher, jogando paciência na cama, um copo de uísque na mesa-de-cabeceira, disse, sem tirar os olhos das cartas, você está com um ar cansado. Os sons da casa: minha filha no quarto dela treinando empostação de voz, a música quadrafônica do quarto do meu filho. Você não vai largar essa mala? Perguntou minha mulher, tira essa roupa, bebe um uisquinho, você precisa aprender a relaxar.
Fui para a biblioteca, o lugar da casa onde gostava de ficar isolado e como sempre não fiz nada. Abri o volume de pesquisas sobre a mesa, não via as letras e números, eu esperava apenas. Você não pára de trabalhar, aposto que os teus sócios não trabalham nem a metade e ganham a mesma coisa, entrou a minha mulher na sala com o copo na mão, já posso mandar servir o jantar?
A copeira servia à francesa, meus filhos tinham crescidos, eu e a minha mulher estávamos gordos. É aquele vinho que você gosta, ela estalou a língua com prazer. Meu filho me pediu dinheiro quando estávamos no cafezinho, minha filha me pediu dinheiro na hora do licor. Minha mulher nada pediu, nós tínhamos conta bancária conjunta.
Vamos dar uma volta de carro?, convidei. Eu sabia que ela não ia, era hora da novela. Não sei que graça você acha em passear de carro todas as noites, também aquele carro custou uma fortuna, tem que ser usado, eu é que cada vez me apego menos aos bens materiais, minha mulher respondeu.
Os carros dos meninos bloqueavam a porta da garagem, impedindo que eu tirasse o meu carro. Tirei o carro dos dois, botei na rua, tirei o meu e botei na rua, coloquei os dois carros novamente na garagem, fechei a porta, essas manobras todas me deixaram levemente irritado, mas ao ver os pára-choques salientes do meu carro, o reforço especial duplo de aço cromado, senti o coração bater apressado de euforia. Enfiei a chave na ignição, era um motor poderoso que gerava a sua força em silêncio, escondido no capô aerodinâmico, Saí, como sempre sem saber para onde ir, tinha que ser uma rua deserta, nesta cidade que tem mais gente do que moscas. Na Avenida Brasil, ali não podia ser, muito movimento. Cheguei numa rua mal iluminada, cheia de árvores escuras, o lugar ideal. Homem ou mulher?, realmente não fazia grande diferênça, mas não aparecia ninguém em condições, comecei a ficar tenso, isso sempre acontecia, eu até gostava, o alívio era maior. Então vi a mulher, podia ser ela, ainda que mulher fosse menos emocionante, por ser mail fácil. Ela caminhava apressadamente, carregando um embrulho de papel ordinário, coisas de padaria ou quitanda, estava de saia e blusa, andava depressa, havia árvores na calçada, de vinte em vinte metros, um interessante problema a exigir uma grande dose de perícia. Apaguei as luzes do carro e acelerei. Ela só percebeu que eu ia para cima dela quando ouviu o som das borrachas dos pneus batendo no meio-fio. Pequei a mulher acima dos joelhos, bem no meio das duas pernas, um pouco mais sobre a esquerda, um golpe perfeito, ouvi o barulho do impacto partindo os dois ossões, dei uma guinada rápida para a esquerda, passei como um foguete rente a uma das árvores e deslizei com os pneus cantando, de volta para o asfalto. Motor bom, o meu, ia de zero a cem quilômetros em onze segundos. Ainda deu para ver que o corpo todo desengonçado da mulher havia ido parar, colorido de vermelho, em cima de um muro, desses baixinhos de casa de subúrbio.
Examinei o carro na garagem. Corri orgulhosamente a mão de leve pelos pára-lamas, os pára-choques sem marca. Poucas pessoas, no mundo inteiro, igualavam a minha habilidade no uso daquelas máquinas.
A família estava vendo televisão. Deu a sua voltinha, agora está mais calmo?, perguntou minha mulher, deitada no sofá, olhando fixamente o vídeo. Vou dormir, boa noite para todos, respondi, amanhã vou ter um dia terrível na companhia.
segunda-feira, 27 de maio de 2013
A INSUSTENTÁVEL LEVEZA DO SER
The unbearable lightness of being, 1988
A INSUSTENTÁVEL LEVEZA DO SER (The unbearable lightness of being, 1988, The Saul Zaentz Company, 171min) Direção: Philip Kaufman. Roteiro: Philip Kaufman, Jean-Claude Carrière, romance de Milan Kundera. Fotografia: Sven Nykvist. Montagem: Vivien Hillgrove, Michael Magill, Walter Murch. Figurino: Ann Roth. Direção de arte/cenários: Pierre Guffroy. Produção executiva: Bertil Ohlsson. Produção: Saul Zaentz. Elenco: Daniel Day-Lewis, Juliette Binoche, Lena Olin, Derek De Lint, Stellan Skarsgard. Estreia: 05/02/88
2 indicações ao Oscar: Roteiro Adaptado, Fotografia
Há duas maneiras de se julgar essa adaptação cinematográfica de “A insustentável leveza do ser”, obra-prima do tcheco Milan Kundera. A primeira, e menos favorável é compará-la com sua versão literária, best-seller absoluto de qualidade inquestionável. A segunda, e aí pode-se fazer elogios rasgados, é como um filme independente de sua origem editorial.
O livro de Kundera, repleto de disgressões filosófico-existenciais é um prato cheio para quem gosta de uma leitura mais profunda e menos romântica. O filme, dirigido com elegância e classe por Philip Kaufman (de “Os eleitos”) não se presta a questões mais intelectuais e, mesmo flertando abertamente com temas políticos e mais discretamente com o quase elogio ao amor livre, conta simplesmente uma bela história de busca pela felicidade, seja ela ideológica, sexual e/ou sentimental.
A trama gira em torno do romance entre o médico Thomas (o ótimo Daniel Day-Lewis) e a garçonete e posteriormente fotógrafa Teresa (uma Juliette Binoche juvenil e encantadora). Ele é um conquistador nato, incapaz de manter um relacionamento estável nem mesmo com a fiel Sabina (Lena Olin), de quem se sente mais próximo. Ela é uma jovem insegura, apaixonada e que sai de sua cidade do interior para ficar com ele, mesmo sabendo que ele não é exatamente um modelo de fidelidade. O triângulo amoroso formado então acompanhará as mudanças políticas da Tchecoslováquia – a história começa às vésperas da primavera de 1968 – revelando às próprias personagens nuances até então nunca percebidas em suas personalidades.
É inegável que o roteiro, escrito pelo diretor Kaufman e pelo habitual colaborador de Roman Polanski, Jean-Claude Carrière, tem uma inteligência e uma sutileza raras e que fazem jus à sua origem literária, o que talvez o tenha colocado em uma espécie de limbo cultural: os fãs do livro, que procuram uma adaptação fiel provavelmente ficarão decepcionados e os cinéfilos que buscam uma história de amor como as que estão acostumados certamente também ficarão perdidos. Com personagens complexos, com atos não exatamente previsíveis e uma trama que deixa muito à inteligência de sua platéia, “A insustentável leveza do ser” é um filme melancólico – o final é de uma beleza pungente – e um meio-termo entre filmes de arte europeus e romances hollywoodianos, o que o fato lamentável de ser falado em inglês só reitera.
No entanto, com uma fotografia belíssima, cortesia de Sven Nykvist, o preferido de Woody Allen e Ingmar Bergman, uma trilha sonora inspirada – reparem em uma versão alemã de “Hey Jude”, dos Beatles – e um elenco impecável, garante seu lugar entre as melhores adaptações cinematográficas já realizadas.
terça-feira, 21 de maio de 2013
CABEÇA DE PEDRA
Depois do portão
FONTE: http://cabecadepedra1.blogspot.com.br/2013/05/do-portao-para-fora.html
domingo, 19 de maio de 2013
SHEIK YERBOUTI (1979)
FRANK ZAPPA
por Tiago Ferreira
por Tiago Ferreira
Este foi o primeiro disco do músico pelo seu selo independente, Zappa Records, depois de compraruma briga feia contra a Warner Bros após eles terem lançado, sem a sua autorização, os álbunsStudio Tan (1978) e Sleep Dirt (1979).
O que vemos aqui é um Zappa efetivo como bandleader e sem barreira alguma para chamar o ouvinte de ‘babaca’ na divertida “Broken Hearts Are for Assholes” ou quebrar o encanto de ‘princesas judias’ ao afirmar que elas devem ser ‘congratuladas com suas próprias opus especiais’ em “Jewish Princess” – canção que evoca o ridículo com uma marchinha lúdica na voz zombeteira de Frank Zappa. Uma liga de antidifamação chegou a afirmar que Zappa estaria utilizando termos antissemitas na canção, mas ele rebateu dizendo que eles queriam manter um estereótipo dos judeus.
Há um mix de letras esfuziantes, divertidas e polêmicas. E há também uma sincronia instrumental muito forte entre os solos espaciais na guitarra de Zappa com a bateria pesada de Terry Bozio, como em “Rat Tamago”. O baixista Patrick O’Hearn se impõe com leves referências funky em “The Sheik Yerbouti Tango”, enquanto os tecladistas Tommy Mars e Peter Wolf passeiam em referências orientais em companhia da guitarra sólida de Zappa.
O amor soa quase como uma pilhéria em todo o disco Sheik Yerbouti. “I Have Been In You” simula o ato sexual com Zappa falando ‘estou em você, de novo’. Ele repete tantas vezes a frase, que vemos o músico atingir o orgasmo quando toca um solo meio glam rock que joga purpurinas depois do ato consumado.
Neste disco, inclusive, há muitas variações do rock. Em “I’m So Cute”, Zappa parte para o punk, mas injeta uma breguice intrépida com os vocais de Adrian Belew e Davey Moire. Na mesma canção, ele viaja em uma espaçonave que o leva direto ao rock futurista. Em “Jones Crusher”, reina o rock progressivo.
Já “Bobby Brown Goes Down” é uma balada sarcástica que fala do encontro de um garoto misógino (‘o mais cool da cidade’) com a lésbica Freddie, engajada no movimento feminista. Nessa conversa, Bobby acaba descobrindo que é gay e não cansa de afirmar que faz parte do ‘sonho americano’. Ironia ou não do destino, o single só ganhou notoriedade em alguns países europeus, que não tinham o inglês como língua nativa.
“Dancin’ Fool” poderia ser tocada em qualquer festa de aniversário, pois não tem pudor algum ao falar do ‘suicídio social’ que qualquer um pode cometer ao se entregar à dança. Chegou, inclusive, a ser nomeada ao Grammy no ano seguinte.
Todas as canções de Sheik Yerbouti foram gravadas entre 1977 e 1978, e permanecem como o tiro inicial certeiro de sua carreira independente. Zappa rocks!
sábado, 18 de maio de 2013
HORÓSCOPO
por Zé da Silva
Capricórnio
Estava sozinho na piscina do hotel. Ouvia o barulho das ondas. Via uma capela no terreno vizinho. Olhou para a copa da árvore ao lado. Uma pedra enorme parecia proteger o local. Um vento fez o sol vazar as folhas verdes. Estava na borda com a água até o peito. O silêncio invadiu tudo. Teve certeza que vivia um momento único e mágico. Foi tomado de uma euforia jamais sentida. O que seria aquilo? Olhou a cruz no topo da capela e ela continuava uma cruz no topo da capela branca. Viu então um menino sentado na escada que levava à porta trancada da igrejinha. Tinha a cabeça enfiada entre os joelhos e a as mãos segurando-a. Pensou em dizer alguma coisa. Não conseguiu. Ficou olhando tudo. Nas janelas dos apartamentos, nada. Era como se o mundo tivesse parado para ele ficar olhando o menino que não mostrava o rosto. Olhou de novo a árvore. As folhas foram sacudidas por um vento forte. Mas o sol não apareceu. Ele voltou a olhar na direção do menino. Não estava mais lá. Então, saiu da água, subiu ao apartamento, ligou o chuveiro e, quando a água tomou conta de tudo, chorou como o mais solitário dos seres da Terra.
terça-feira, 14 de maio de 2013
domingo, 12 de maio de 2013
OS FILHINHOS DA ZEFA
Por Roberto José da Silva
Precisava cuidar dele porque ele precisava ser cuidado. Chamava-o de Filhinho. Nosso pai. Que tinha a alma blindada e torturava-se por dentro, calado, semblante de pedra, porque não conseguia o gesto do amor. Ela sabia. Sabia que seus dois meninos se fariam homens porque prontos para as cabeçadas da vida. Sabia que sua demonstração de amor para aquele senhor nosso pai era a maior lição de vida, mesmo porque, como disse um dia, foi assim que aprendeu lá nos canfundós do sertão alagoano. Também não tinha o gesto, mas não precisava. Tinha a presença, a existência que salvou os três do mergulho no desconhecido, na revelação dos demônios internos, na perdição da procura de, quem sabe, aquilo que nasceu com ela. Paciente, olhar triste, resignada, mas com uma capacidade intelectual absurda para transformar em palavras certeiras, venenosas, alegres, uma situação. Era uma repentista do cotidiano a dar lições que ficaram impregnadas no DNA hoje captado em alguns dos quatro netos e, quem sabe?, se Deus quiser, na bisneta que não chegou a ver. Ela sabia e ficou feliz por sua obra entrar no prumo ao ver seus três homens sobreviventes. Ficou feliz ao receber uma carta do mais velho reconhecendo tudo o que ela e o Filhinho tinham dado para ele, isso depois do terceiro internamento, ou seja, a possibilidade de ter conseguido andar para aprender – e aí o fato de isso ter acontecido no bolsão da pobreza deste país é prova de que o chororô que se escuta normalmente é balela. Um dia, depois que os dois se foram, ele resgatou essa carta, escrita a máquina, e no meio dela, escrita em letras enormes, a mão, esferográfica de tinta azul, estava lá “os garranchos”, como ela mesmo dizia, registrando o que sempre se soube: “Eu te amo, meu filho”. Ela nunca disse isso, porque isso não se precisa dizer. Eu e meu irmão Ricardo, este artista que nos brinda com as obras de arte do quintal dela, dona Zefa, que ele cuida como nosso maior patrimônio, nós sempre soubemos disso – e é o que nos mantém, porque ela nos deu essa vida para isso.
FONTE:http://jornalenoticias.com.br/zebeto/?p=186648
Precisava cuidar dele porque ele precisava ser cuidado. Chamava-o de Filhinho. Nosso pai. Que tinha a alma blindada e torturava-se por dentro, calado, semblante de pedra, porque não conseguia o gesto do amor. Ela sabia. Sabia que seus dois meninos se fariam homens porque prontos para as cabeçadas da vida. Sabia que sua demonstração de amor para aquele senhor nosso pai era a maior lição de vida, mesmo porque, como disse um dia, foi assim que aprendeu lá nos canfundós do sertão alagoano. Também não tinha o gesto, mas não precisava. Tinha a presença, a existência que salvou os três do mergulho no desconhecido, na revelação dos demônios internos, na perdição da procura de, quem sabe, aquilo que nasceu com ela. Paciente, olhar triste, resignada, mas com uma capacidade intelectual absurda para transformar em palavras certeiras, venenosas, alegres, uma situação. Era uma repentista do cotidiano a dar lições que ficaram impregnadas no DNA hoje captado em alguns dos quatro netos e, quem sabe?, se Deus quiser, na bisneta que não chegou a ver. Ela sabia e ficou feliz por sua obra entrar no prumo ao ver seus três homens sobreviventes. Ficou feliz ao receber uma carta do mais velho reconhecendo tudo o que ela e o Filhinho tinham dado para ele, isso depois do terceiro internamento, ou seja, a possibilidade de ter conseguido andar para aprender – e aí o fato de isso ter acontecido no bolsão da pobreza deste país é prova de que o chororô que se escuta normalmente é balela. Um dia, depois que os dois se foram, ele resgatou essa carta, escrita a máquina, e no meio dela, escrita em letras enormes, a mão, esferográfica de tinta azul, estava lá “os garranchos”, como ela mesmo dizia, registrando o que sempre se soube: “Eu te amo, meu filho”. Ela nunca disse isso, porque isso não se precisa dizer. Eu e meu irmão Ricardo, este artista que nos brinda com as obras de arte do quintal dela, dona Zefa, que ele cuida como nosso maior patrimônio, nós sempre soubemos disso – e é o que nos mantém, porque ela nos deu essa vida para isso.
FONTE:http://jornalenoticias.com.br/zebeto/?p=186648
CREPÚSCULO DOS DEUSES
Sunset Boulevard (1950)
CREPÚSCULO DOS DEUSES (Sunset boulevard, 1950, Paramount Pictures, 110min) Direção: Billy Wilder. Roteiro: Charles Brackett, Billy Wilder, D. M. Marshman Jr. Fotografia: John F. Seitz. Montagem: Arthur P. Schmidt, Doane Harrison. Música: Franz Waxman. Figurino: Edith Head. Produção: Charles Brackett. Elenco: Gloria Swanson, William Holden, Erich Von Stroheim, Nancy Olson, Jack Webb. Estreia: 04/8/50

11 indicações ao Oscar: Melhor Filme, Diretor (Billy Wilder), Ator (William Holden), Atriz (Gloria Swanson), Ator Coadjuvante (Erich Von Stronheim), Atriz Coadjuvante (Nancy Olson), História e Roteiro Originais, Fotografia, Montagem, Trilha Sonora Original, Direção de Arte
Vencedor de 3 Oscar: História e Roteiro Originais, Trilha Sonora Original, Direção de Arte
Vencedor de 4 Golden Globes: Melhor Filme, Diretor (Billy Wilder), Atriz (Gloria Swanson), Trilha Sonora Original
Poucas vezes na história do cinema um título nacional conseguiu atingir tão precisamente a essência de um filme quanto "Crepúsculo dos deuses", a versão brasileira de "Sunset Blvd", uma das várias obras-primas legadas ao mundo pelo cineasta Billy Wilder. Poético, trágico e imponente, o título já dá uma ideia do alcance da obra, que utiliza a trágica história de uma atriz veterana em busca de uma nova chance como metáfora assustadora da inevitabilidade da decadência e da efemeridade da juventude, da beleza e, por que não?, da sanidade mental.
A protagonista de "Crepúsculo dos deuses" é Norma Desmond, uma diva do cinema mudo que não resistiu à transição para os filmes falados. Vivendo isolada em um mundo particular, dentro de uma mansão decadente na Sunset Boulevard (o tal título original) e refugiando-se nas glórias de seu passado, ela sonha em voltar às telas em uma adaptação de "Salomé", de Oscar Wilde, com ela no papel-título (o fato de ter muito mais idade que a personagem não lhe preocupa nem um pouco). Servida fielmente pelo mordomo Max Von Mayerling (Erich Von Stronheim), Desmond vive do passado enquanto sonha por um futuro pouco provável (ao menos para olhos mais racionais). Sua vida sofre uma reviravolta quando ela conhece o aspirante a roteirista Joe Gillis (William Holden), que, foragido dos credores, se esconde na garagem de sua mansão. Apaixonada por ele, a atriz o contrata para ajudá-la a escrever seu retorno ao cinema, que, acredita ela, é um evento esperado ansiosamente por seus fãs. No entanto, o rapaz, que submete-se a sua dominação por estar sem dinheiro e sem possibilidades de trabalho, apaixona-se pela doce namorada de um amigo (Nancy Olson) e, rejeitada, Norma Desmond embarca em um caminho sem volta de rancor e desilusão.

Quando um filme fala sobre cinema corre o sério risco de cair nas armadilhas de auto-referência, narcisismo e pior ainda, metalinguagem (o que, quando usado sem parcimônia pode transformar um filme em uma tortura). Não é qualquer cineasta que tem auto-crítica em quantidade suficiente para realizar um filme sobre os bastidores de sua profissão sem fazer dele um exercício de auto-adoração. Felizmente Billy Wilder não é "qualquer cineasta". Dono de uma visão toda particular da vida e principalmente da sétima arte, ele oferece ao espectador um ângulo poucas vezes visto do mundo do cinema, onde o talento muitas vezes é relevado a melancólicos segundos planos diante da beleza e do "novo". O roteiro - escrito por Wilder com seu habitual colaborador Charles Brackett - é repleto de um cinismo delicioso, mas seco, cruel e a um passo do pessimismo. As cenas entre Desmond e seu mordomo - que já foi seu marido e diretor de alguns filmes seus - são de partir o coração, tamanha a compaixão que a protagonista desperta na audiência. Sim, ela é louca. Sim, ela é arrogante e sim, ela é egocêntrica. Mas a atuação de Gloria Swanson é tão, mas tão perfeita, que fica difícil não ficar fascinado com seus gestos, seus olhares - em determinado momento ela diz, com certa razão: "Não preciso de falas, tenho meus olhos..." - sua grandeza intrínseca. Norma Desmond é, sem dúvida, uma das grandes personagens da história do cinema e Swanson apropriou-se dela de tal maneira que é difícil imaginar outra atriz em seu lugar - e isso que Mae West, Mary Pickford e Pola Negri foram convidadas antes dela, recusando o papel para sorte nossa. Como ela e Bette Davis (por "A malvada") foram preteridas na premiação do Oscar de melhor atriz em nome de Judy Holiday (por "Nascida ontem") ainda é um mistério inexplicável.
Em cena, Swanson é poderosa, frágil, romântica, enlouquecida, uma estrela ou apenas uma sombra da glória de sua personagem. Ao lado de William Holden (que ficou com o papel recusado por Montgomery Clift, por pouco não oferecido a Marlon Brando e que não pôde ficar com Gene Kelly por questões contratuais), ela é uma mulher apaixonada. Diante de seu mordomo, uma diva atemporal. Para os espectadores, uma mulher perdida entre o passado de sucesso e o presente sufocante.

Além da magnífica ambientação soturna do filme (que pode sem medo ser encaixado na categoria de filme noir, ainda que não corresponda a todas as suas regras), do roteiro extraordinário, da direção precisa e do elenco irretocável (Erich Von Strohneim também foi cineasta, assim como seu personagem), "Crepúsculo dos deuses" ainda encontra espaço para homenagear astros que, assim como Norma Desmond, viram seus melhores anos esquecidos pelo advento do som, como Buster Keaton, que faz seu próprio papel em uma breve cena de jogo de cartas. E o cineasta Cecil B. de Mille também dá o ar da graça, interpretando ele mesmo, em uma cena que demonstra como poucas a divisão claramente estabelecida entre a velha e a nova (da época) Hollywood.

"Crepúsculo dos deuses" é um dos melhores filmes da história, digo sem medo de errar. Tudo funciona, tudo está no lugar certo, tudo faz sentido. E quando acaba, mesmo sem querer ser saudosista não há como negar que Norma Desmond está certá quando diz que "os filmes é que ficaram pequenos".

PS - Havia um boato de que o musical da Broadway inspirado em "Sunset Blvd" seria adaptado para o cinema com Glenn Close como Norma Desmond e Ewan McGregor como Joe Gillis. Tem lugar na primeira fila???
FONTE:http://clenio-umfilmepordia.blogspot.com.br/2010/02/crepusculo-dos-deuses.html
CREPÚSCULO DOS DEUSES (Sunset boulevard, 1950, Paramount Pictures, 110min) Direção: Billy Wilder. Roteiro: Charles Brackett, Billy Wilder, D. M. Marshman Jr. Fotografia: John F. Seitz. Montagem: Arthur P. Schmidt, Doane Harrison. Música: Franz Waxman. Figurino: Edith Head. Produção: Charles Brackett. Elenco: Gloria Swanson, William Holden, Erich Von Stroheim, Nancy Olson, Jack Webb. Estreia: 04/8/50

11 indicações ao Oscar: Melhor Filme, Diretor (Billy Wilder), Ator (William Holden), Atriz (Gloria Swanson), Ator Coadjuvante (Erich Von Stronheim), Atriz Coadjuvante (Nancy Olson), História e Roteiro Originais, Fotografia, Montagem, Trilha Sonora Original, Direção de Arte
Vencedor de 3 Oscar: História e Roteiro Originais, Trilha Sonora Original, Direção de Arte
Vencedor de 4 Golden Globes: Melhor Filme, Diretor (Billy Wilder), Atriz (Gloria Swanson), Trilha Sonora Original
Poucas vezes na história do cinema um título nacional conseguiu atingir tão precisamente a essência de um filme quanto "Crepúsculo dos deuses", a versão brasileira de "Sunset Blvd", uma das várias obras-primas legadas ao mundo pelo cineasta Billy Wilder. Poético, trágico e imponente, o título já dá uma ideia do alcance da obra, que utiliza a trágica história de uma atriz veterana em busca de uma nova chance como metáfora assustadora da inevitabilidade da decadência e da efemeridade da juventude, da beleza e, por que não?, da sanidade mental.
A protagonista de "Crepúsculo dos deuses" é Norma Desmond, uma diva do cinema mudo que não resistiu à transição para os filmes falados. Vivendo isolada em um mundo particular, dentro de uma mansão decadente na Sunset Boulevard (o tal título original) e refugiando-se nas glórias de seu passado, ela sonha em voltar às telas em uma adaptação de "Salomé", de Oscar Wilde, com ela no papel-título (o fato de ter muito mais idade que a personagem não lhe preocupa nem um pouco). Servida fielmente pelo mordomo Max Von Mayerling (Erich Von Stronheim), Desmond vive do passado enquanto sonha por um futuro pouco provável (ao menos para olhos mais racionais). Sua vida sofre uma reviravolta quando ela conhece o aspirante a roteirista Joe Gillis (William Holden), que, foragido dos credores, se esconde na garagem de sua mansão. Apaixonada por ele, a atriz o contrata para ajudá-la a escrever seu retorno ao cinema, que, acredita ela, é um evento esperado ansiosamente por seus fãs. No entanto, o rapaz, que submete-se a sua dominação por estar sem dinheiro e sem possibilidades de trabalho, apaixona-se pela doce namorada de um amigo (Nancy Olson) e, rejeitada, Norma Desmond embarca em um caminho sem volta de rancor e desilusão.

Quando um filme fala sobre cinema corre o sério risco de cair nas armadilhas de auto-referência, narcisismo e pior ainda, metalinguagem (o que, quando usado sem parcimônia pode transformar um filme em uma tortura). Não é qualquer cineasta que tem auto-crítica em quantidade suficiente para realizar um filme sobre os bastidores de sua profissão sem fazer dele um exercício de auto-adoração. Felizmente Billy Wilder não é "qualquer cineasta". Dono de uma visão toda particular da vida e principalmente da sétima arte, ele oferece ao espectador um ângulo poucas vezes visto do mundo do cinema, onde o talento muitas vezes é relevado a melancólicos segundos planos diante da beleza e do "novo". O roteiro - escrito por Wilder com seu habitual colaborador Charles Brackett - é repleto de um cinismo delicioso, mas seco, cruel e a um passo do pessimismo. As cenas entre Desmond e seu mordomo - que já foi seu marido e diretor de alguns filmes seus - são de partir o coração, tamanha a compaixão que a protagonista desperta na audiência. Sim, ela é louca. Sim, ela é arrogante e sim, ela é egocêntrica. Mas a atuação de Gloria Swanson é tão, mas tão perfeita, que fica difícil não ficar fascinado com seus gestos, seus olhares - em determinado momento ela diz, com certa razão: "Não preciso de falas, tenho meus olhos..." - sua grandeza intrínseca. Norma Desmond é, sem dúvida, uma das grandes personagens da história do cinema e Swanson apropriou-se dela de tal maneira que é difícil imaginar outra atriz em seu lugar - e isso que Mae West, Mary Pickford e Pola Negri foram convidadas antes dela, recusando o papel para sorte nossa. Como ela e Bette Davis (por "A malvada") foram preteridas na premiação do Oscar de melhor atriz em nome de Judy Holiday (por "Nascida ontem") ainda é um mistério inexplicável.
Em cena, Swanson é poderosa, frágil, romântica, enlouquecida, uma estrela ou apenas uma sombra da glória de sua personagem. Ao lado de William Holden (que ficou com o papel recusado por Montgomery Clift, por pouco não oferecido a Marlon Brando e que não pôde ficar com Gene Kelly por questões contratuais), ela é uma mulher apaixonada. Diante de seu mordomo, uma diva atemporal. Para os espectadores, uma mulher perdida entre o passado de sucesso e o presente sufocante.

Além da magnífica ambientação soturna do filme (que pode sem medo ser encaixado na categoria de filme noir, ainda que não corresponda a todas as suas regras), do roteiro extraordinário, da direção precisa e do elenco irretocável (Erich Von Strohneim também foi cineasta, assim como seu personagem), "Crepúsculo dos deuses" ainda encontra espaço para homenagear astros que, assim como Norma Desmond, viram seus melhores anos esquecidos pelo advento do som, como Buster Keaton, que faz seu próprio papel em uma breve cena de jogo de cartas. E o cineasta Cecil B. de Mille também dá o ar da graça, interpretando ele mesmo, em uma cena que demonstra como poucas a divisão claramente estabelecida entre a velha e a nova (da época) Hollywood.

"Crepúsculo dos deuses" é um dos melhores filmes da história, digo sem medo de errar. Tudo funciona, tudo está no lugar certo, tudo faz sentido. E quando acaba, mesmo sem querer ser saudosista não há como negar que Norma Desmond está certá quando diz que "os filmes é que ficaram pequenos".

PS - Havia um boato de que o musical da Broadway inspirado em "Sunset Blvd" seria adaptado para o cinema com Glenn Close como Norma Desmond e Ewan McGregor como Joe Gillis. Tem lugar na primeira fila???
FONTE:http://clenio-umfilmepordia.blogspot.com.br/2010/02/crepusculo-dos-deuses.html
sábado, 11 de maio de 2013
BOB MARLEY
Robert Nesta Marley, mais conhecido como Bob Marley (Nine Mile, 6 de fevereiro de 1945 — Miami, 11 de maio de 1981), foi um cantor, guitarrista e compositor jamaicano, o mais conhecido músico de reggae
de todos os tempos, famoso por popularizar o gênero. A maior parte do
seu trabalho lidava com os problemas dos pobres e oprimidos.
Levou, através de sua música, o movimento rastafári e suas ideias de paz, irmandade, igualdade social, libertação, resistência, liberdade e amor universal ao mundo. A música de Marley foi fortemente influenciada pelas questões sociais e políticas de sua terra natal, fazendo com que considerassem-no a voz do povo negro, pobre e oprimido da Jamaica. A África e seus problemas como a miséria, guerras e domínio europeu também foram centro de assunto de suas músicas, por tratar-se da terra sagrada do movimento rastafári.
Hoje pode ser considerado o primeiro e maior astro musical do Terceiro Mundo e a maior voz deste. Suas músicas mais conhecidas são " I Shot the Sheriff "," No Woman, No Cry"," Could You Be Loved "," Stir It Up "," Get Up, Stand Up "," Jamming "," Redemption Song "," One Love/People Get Ready "e," Three Little Birds ", e tambem lançamentos póstumos como " Buffalo Soldier "e" Iron Lion Zion ".
A coletânea Legend, lançada três anos após sua morte e que reúne algumas músicas de álbuns do artista, é o álbum de reggae mais vendido da história. Bob foi casado com Rita Marley de 1966 até a morte, uma das I Threes, que passaram a cantar com os Wailers depois que eles alcançaram sucesso internacional. Ela foi mãe de quatro de seus doze filhos (dois deles adotados), os renomados Ziggy e Stephen Marley, que continuam o legado musical de seu pai na banda Melody Makers. Outros de seus filhos, Kymani Marley, Julian Marley e Damian Marley (vulgo Jr. Gong) também seguiram carreira musical. Foi eleito pela revista Rolling Stone o 11º maior artista da música de todos os tempos.
FONTE: WIKIPÉDIA
Levou, através de sua música, o movimento rastafári e suas ideias de paz, irmandade, igualdade social, libertação, resistência, liberdade e amor universal ao mundo. A música de Marley foi fortemente influenciada pelas questões sociais e políticas de sua terra natal, fazendo com que considerassem-no a voz do povo negro, pobre e oprimido da Jamaica. A África e seus problemas como a miséria, guerras e domínio europeu também foram centro de assunto de suas músicas, por tratar-se da terra sagrada do movimento rastafári.
Hoje pode ser considerado o primeiro e maior astro musical do Terceiro Mundo e a maior voz deste. Suas músicas mais conhecidas são " I Shot the Sheriff "," No Woman, No Cry"," Could You Be Loved "," Stir It Up "," Get Up, Stand Up "," Jamming "," Redemption Song "," One Love/People Get Ready "e," Three Little Birds ", e tambem lançamentos póstumos como " Buffalo Soldier "e" Iron Lion Zion ".
A coletânea Legend, lançada três anos após sua morte e que reúne algumas músicas de álbuns do artista, é o álbum de reggae mais vendido da história. Bob foi casado com Rita Marley de 1966 até a morte, uma das I Threes, que passaram a cantar com os Wailers depois que eles alcançaram sucesso internacional. Ela foi mãe de quatro de seus doze filhos (dois deles adotados), os renomados Ziggy e Stephen Marley, que continuam o legado musical de seu pai na banda Melody Makers. Outros de seus filhos, Kymani Marley, Julian Marley e Damian Marley (vulgo Jr. Gong) também seguiram carreira musical. Foi eleito pela revista Rolling Stone o 11º maior artista da música de todos os tempos.
FONTE: WIKIPÉDIA








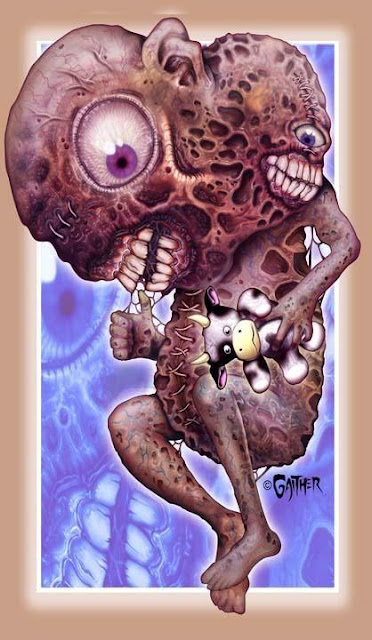



















.+Shootout+With+Russians+in+Barn,+Male+or+Stag+cover,+circa+1965.jpg)















